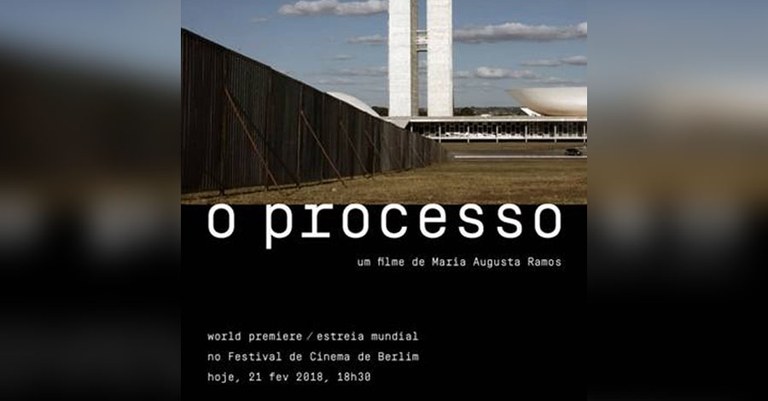Este é um encontros entre literatura brasileira e a bebida nacional mais típica. Ela mistura-se com nossa cultura – por isso, o pensamento colonizado a desdenha.
Por Maurício Ayer*
A cachaça está na história do Brasil há pelo menos quatro séculos e, no entanto, ainda há muito o que aprender sobre ela. Pode-se inverter essa proposição e entender que, se a cachaça participa da vida do povo brasileiro há tanto tempo, é bem possível que ela possa nos ensinar muita coisa sobre nossa cultura, nossa história, nossas subjetividades. Pensando nisso, resolvi me dedicar a pesquisar como a cachaça aparece na literatura brasileira e refletir sobre o que ela revela. Ao mesmo tempo, degustar algumas das melhores cachaças produzidas hoje em dia, com a convicção de que o paladar ensina muito e em um nível que outros sentidos não alcançam.
Certamente, pagamos um preço por não conhecer bem a história da cachaça. Por exemplo, há quem afirme que o Brasil viveu um ciclo econômico da bebida, entre a crise do açúcar após 1654 – quando os holandeses, expulsos de Pernambuco, vão se instalar e produzir açúcar no Caribe – e o início da exploração do ouro em Minas Gerais, já no alvorecer do século 18. Nesse período, a cachaça ajudou muito a segurar economicamente os engenhos, por ser produto muito valorizado nessa era de grandes navegações. Mas quem aprendeu isso na escola? Será que o problema é falar de uma bebida alcoólica para crianças? Mas será que, ao falar de sua cultura e história para as crianças, os italianos e franceses omitem o vinho; os japoneses, o saquê; os escoceses, o whisky?
Será que ainda é um tabu falar seriamente de cachaça? Lembrando que seriedade não é tristeza; falar sério é falar com consistência, procurando fundamentos, dados, análise. E para isso não é preciso deixar de lado a alegria, o afeto, o humor que, fatalmente, participam do universo da cachaça.
Enquanto isso, muitas são as lendas – quando não mentiras deslavadas – a respeito da cachaça. Ao circular, distorcem e falseiam a compreensão sobre nossa cultura. Quem nunca recebeu pelo whatsapp ou Facebook a história de que a cachaça seria uma invenção acidental de escravos, que teriam deixado azedar o melaço da cana e, para fugir do castigo do feitor, tentaram fazer açúcar no tachão assim mesmo? O resultado teria sido produzirem cachaça, que evaporou, condensou nas telhas e pingou lá de cima – por isso, a “pinga” – nas costas desses trabalhadores compulsórios, fazendo arder as feridas abertas em castigos físicos prévios – por isso “aguardente”. Essa bobagem não tem pé nem cabeça, não tem qualquer fundamento histórico nem técnico, restando tão somente um certo substrato ideológico.
Que substrato? O de que cachaça, por ter sido durante um período associada às pessoas miseráveis, seria coisa de escravos, como uma maneira de depreciá-la; também que os escravos criam coisas por acidente – ainda assim geniais, veja só. É certo que os negros escravizados e, depois, trabalhadores livres participaram da evolução da cachaça, mas não é essa a questão: a lenda reafirma a ideia de que as nossas melhores coisas fossem fruto do puro acaso, nós brasileiros seríamos algo assim como geniais incompetentes. Ressoa a velha anedota de que o Brasil surgiu de um erro – suas boas coisas não podem ser fruto de um projeto deliberado, inteligente, criativo, empreendedor, em função de forças históricas que as tornaram possíveis e, até, necessárias.
Rever ponto a ponto essa lenda urbana nos devolve um pouco à lucidez (às vezes é bom, mesmo quando o assunto é giribita). A primeira questão, claro, é que não se cria um destilado assim por acidente, ainda mais quando a tecnologia da destilação era uma coisa dominada pelos europeus e árabes muitos séculos antes de os portugueses toparem com as Américas. Eles mesmos já produziam seus destilados. Tinham a bagaceira, feita a partir da fermentação do bagaço da uva usada para produzir vinho (processo semelhante ao da grappa italiana), e a chamada aguardente vínica, a partir da fermentação de um vinho doce (processo parecido com o do cognac francês).
Um fermentado pode ser descoberto por acaso e depois aprimorado, mas um destilado não. A produção deste requer equipamento especializado: um destilador – um deles é o alambique, por exemplo –, cuja origem remonta à Grécia antiga, mas que permaneceu conhecido entre árabes e alquimistas ao longo da Idade Média. Várias bebidas destiladas foram criadas antes do século 16, como o whisky e a vodca, e são portanto mais antigas que o próprio Brasil. Então, dentre todas as incertezas que temos a respeito da origem da cachaça, podemos excluir uma: a cachaça não foi produzida por acaso, mas sim fruto de um ato intencional e deliberado pelos portugueses, usando alambiques – de barro? de metal? – trazidos em navios da Europa. Sem alambique, o álcool evapora e dispersa no ar. É evidente, não? Mas muita gente propaga a historinha pelas redes sociais.
Aí vêm as lendas sobre as palavras que nomeiam essa bebida. O próprio nome cachaça é de origem controversa. Não se sabe ao certo em que momento surgiu e passou a ser usado para denominar o destilado brasileiro. Há registros, ainda no século 18, de que nomeava a espuma do caldo de cana fermentado, nada muito elogioso… Segundo o antropólogo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo, no seu Prelúdio da Cachaça e na História da Alimentação no Brasil, a palavra designava o vinho de borras já no século 16, mas, embora usada em Portugal, tinha origem espanhola e por isso havia alguma resistência a ela, pois soava estrangeirismo.
Vamos ao que diz a historinha mequetrefe, pois ela vai nos levar a um ponto interessante nessa convergência de conhecimento entre literatura brasileira e cachaça. A começar, aguardente: é uma palavra antiquíssima! De origem latina: acqua ardens, a água que queima, a água que contém o fogo – numa mágica fusão de elementos alquímicos opostos. Trago aqui um trecho citado por Câmara Cascudo:
O erudito A. da Silva Mello, [no livro] Alimentação, Instinto, Cultura […] ensina: ‘Os próprios vinhos concentrados, citados por velhos autores gregos, não deviam ser mais ricos em álcool, porque sua maior concentração era obtida à custa de aquecimento, de calor, que fazia evaporar boa parte do álcool, substância muito volátil. Foi somente no século VIII que Marco Graeco conseguiu obter uma bebida concentrada, por ele denominada acqua-ardens, e que provinha da destilação do vinho. Mas tal descoberta deve ter tido pouca repercussão, pois não foi senão pelo século 13 que começou seu uso a se generalizar, então sob o nome de acqua-vitae e espírito de vinho’.
Vitae, “da vida”, substituiu ardens, ou o ardor, o fogo. A “água da vida” seria então a água que traz a chama acesa, capaz de intensificar a vida, animar – dar alma, espírito. Sabe-se que a palavra “whisky” tem esse mesmo significado na origem: água da vida. Então a primeira denominação da cachaça é aguardente, porque já havia a aguardente em Portugal, a bagaceira; cachaça passou a ser a “aguardente da terra”, por oposição à “aguardente do reino” (ou “de fora”).
Pinga é uma palavra muito posterior, também de origem não totalmente identificada como sinônimo de cachaça. Fala-se que deve-se ao fato de, no alambique, o líquido destilado “pinga”. Poderia ser, mas a imagem tampouco é muito precisa, pois no alambique o destilado escorre, não pinga. E não é raro alguém, em conversa de bar, fazer uma distinção de qualidade da seguinte ordem: “Isso é cachaça de verdade, não aquelas coisas que vendem em bar, aquilo lá é pinga”. Nessa oposição, a palavra pinga serve para designar bebidas de produção industrial, que não usam alambique mas sim os chamados destiladores de coluna – ou colunas de destilação. E aí, como é que fica a história de que pinga tem esse nome porque o alambique pinga, se agora a gente chama de pinga justamente aquilo que não é feito em alambique? Tem alguma coisa que não fecha.
Para chegar logo ao ponto, gostaria de trazer um caso literário. Num romance intitulado Maurício ou Os paulistas em São João del Rei, de 1877, do final romantismo brasileiro, o escritor mineiro Bernardo Soares descreve uma cena em que as pessoas entram em uma casa para tomar “uma pinga”:
“– Brucho!?? esta bem?… entrem que está fazendo frio… tomemos uma pinga e conversemos de portas a dentro… hoje em dia os negocios não estão de se facilitar…” (p.180)
A seguir, percebe-se que, ao contrário do que hoje poderíamos supor, a partir de nosso vocabulário de hoje, não é cachaça o que estão tomando, mas sim um “vinho zurrapa”.
“Entrárão os emboabas, que erão quatro, e mar cotando broa fria com vinho zurrapa, conversavão sobre o caso.” (p.181)
“Vinho zurrapa” não seria mais uma denominação de cachaça? Não, é um vinho vagabundo mesmo. Isso se confirma mais adiante no mesmo livro, pois numa expedição na mata um português leva um cantil com “agoardente”.
“– Se ainda temos caminhada como esta, que até aqui temos aguentado, ah! meu bugre velho, furo-te esses olhinhos de vibora! – rosnou outro arrojando aos olhos do bugre um resto de agoardente, que acabava de beber.” (p.267)
Então o que se percebe é que a “pinga” neste livro designa “um copo”, um gole – ou seja, uma quantidade, sem especificar a bebida. Pode-se então supor, como hipótese, que em um período da história se entrava em uma venda para pedir “uma pinga” e que, como a aguardente era o padrão, essa pinga era de cachaça. A “pinga de cachaça” teria evoluído para pinga apenas, querendo dizer cachaça. Como quem diz “vou tomar dois dedinhos”. Pode-se afirmar isso com certeza? Ainda não, mas temos uma boa hipótese. Cabe pesquisar e confirmar.
A citação de Bernardo Guimarães é um exemplo que mostra como a literatura pode ensinar sobre cachaça. Por certo que há muito mais sentidos implicados nos trechos citados. De fato, cada livro propõe muitas descobertas nesse cruzamento entre literatura e cachaça.
Guimarães Rosa, por exemplo. Ao longo de toda a sua obra, a cachaça aparece, por ser “personagem” de uma sociedade, de uma paisagem, seja como parte da hospitalidade do sertanejo, seja como produto que circula entre vaqueiros e tropeiros. Mas aí nos deparamos com uma história como “Meu tio, o Iauaretê”, em que a cachaça tem um papel central. Serve, aliás, para nos fazer repensar simbolicamente o encontro fundador de brancos e índios, que se repete tragicamente no decorrer da história do Brasil – cite-se o episódio emblemático do Anhanguera, o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, que teria queimado aguardente diante dos índios para mostrar-se como um poderoso mago capaz de pôr fogo em água. Mas Guimarães Rosa vai muito além, e cose referências da tradição cultural europeia ao mesmo tempo em que cria uma panela de fermentação e destilação de uma nova língua; ao ponto de ser considerado este texto, segundo Haroldo de Campos, aquele em que o autor mineiro levou mais longe sua experimentação com a linguagem.
Ou se falarmos de Jorge Amado – não falta cachaça no cais do porto da Bahia, ou em Ilhéus ou por toda parte onde ele situou suas histórias, e isso obviamente aparece nos textos. Mas em um livro como A morte e a morte de Quincas Berro D’água, a cachaça assume um papel simbólico totalmente distinto. Ali a aguardente renasce como água da vida, elemento que participa da abertura dos portais entre a vida e a morte, evidentemente não sem evocar a tradição das religiões afrobrasileiras, em que a cachaça é ofertada a Exu, que abre aos homens os caminhos para o plano dos orixás.
É assim que esta pesquisa dos cruzamentos entre Literatura Brasileira e Cachaça está acontecendo há alguns anos – e sem hora para acabar, pois há um universo imenso a ser percorrido. Foram selecionados 11 autores, de maneira até um tanto arbitrária, pois há dezenas de outros e de obras que poderiam ser abordados e que deverão sê-lo no futuro. Esta é, digamos, a primeira temporada de uma longa viagem lítero-cachacística.
Cada região do Brasil produziu grandes autores, o que faz de nossa literatura uma das mais ricas e diversas do mundo. Nesse aspecto, o paralelo com a própria cachaça é evidente. Nenhum destilado do planeta é tão diversificado como a nossa aguardente, fruto dos distintos processos históricos de ocupação do território e de uma relação profícua com a natureza local. Assim, a aguardente que surge nos engenhos de Pernambuco e Bahia no século 17 não é a mesma que se formou pelos caminhos do ouro no século 18, ou mesmo aquela que os tropeiros levaram ao sul do país e que depois adquire novas peculiaridades com a influência de imigrantes italianos e alemães.
Ao longo da história, a cachaça desdobrou-se em uma multiplicidade de estilos, com o uso de dezenas de madeiras de envelhecimento na confecção de seus tonéis, de modo que sua diversidade só tem paralelo no mundo dos fermentados, como o vinho e a cerveja. Ao abordar a literatura de autores tão diferentes quanto José Lins do Rego e Mário de Andrade, Cecília Meireles e Antonio Callado, temos um bom pretexto para conhecer cachaças que possam ser evocadas por essas leituras, e apreciadas em sua especificidade.
É bom lembrar que, nos últimos 30 anos, e com muita intensidade nos anos recentes, a cachaça vem passando por uma verdadeira revolução. Muitas marcas e rótulos novos surgem, aprimorando sua qualidade e inovando na produção, na apresentação e no serviço. Pode-se dizer que hoje a cachaça é muito diferente do que era pouco tempo atrás – está melhor, ainda mais diversa, mais altiva, mais consciente de seus processos.
Aliás, há toda uma cena da coquetelaria brasileira em ebulição, na qual a cachaça vem sendo francamente revalorizada. Além, claro, de sommeliers e sommelières, pesquisadores e pesquisadoras, especialistas de diversas áreas, que têm dado uma contribuição enorme em várias frentes. Então, uma das ideias desses encontros é também que se possa conhecer uma amostra da produção contemporânea de cachaça, entendendo o “contemporâneo” como a convivência entre tradição e inovação, entre produtores consagrados, antigos, e os novos que chegam injetando oxigênio e inventividade nesse universo.
Como serão os encontros? Acho que o trecho a seguir de José Lins do Rego, o primeiro dos autores da série, dá uma ideia do que vamos ter:
Na destilação, como nas farmácias do interior, os moradores se encontravam em conversa. O estribeiro, alguém que viesse em visita ou a negócio, o destilador João Miguel, e a palestra pegava, devagar, no manso, sem uma palavra mais alta, mas com gargalhadas de estrondo. João Miguel era branco, sabia ler e tinha com ele sempre as histórias de Antônio Silvino, lendo para os outros. – José Lins do Rego, Banguê.
Gostaria que os nossos encontros acontecessem como essa reunião informal ao lado do alambique que o escritor paraibano descreveu. Pessoas que se encontram pelo prazer de conversar, compartilhar leituras e histórias, e rir juntas, tudo em torno da cachaça.
Não será preciso ler os romances antes de cada encontro, embora, claro, quem tiver feito essas leituras poderá aproveitar mais. Vamos ler trechos das obras, com destaque para aquelas em que aparece a cachaça, e conversar a respeito para entender esses trechos em perspectiva, saboreando a poética de cada autor, mas também os possíveis desdobramentos simbólicos de cada obra. Para quem ainda não leu, o encontro funciona como uma introdução; para quem já leu, é uma apreciação especial a partir de certa perspectiva.
E vamos degustar cachaças, pelo menos duas que possam evocar conexões com o autor ou a obra em questão, e às vezes mais uma “infiltrada”, trazendo um tempero de outra região, com outras características.
*Este é o primeiro artigo de uma série publicada pelo portal Outras Palavras