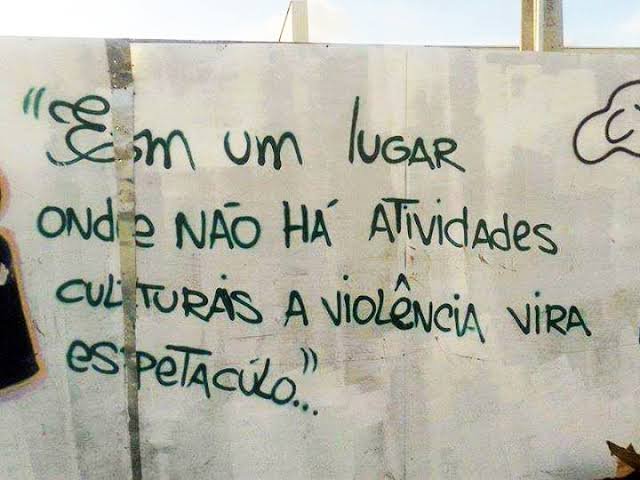Por força destes meses malditos de fascismo, para falar sobre Tom Jobim pesquiso sobre a sua vida na ditadura, sobre o que ele passou e nem sempre deixou claro. Na Wikipédia, encontro:
“Em 1971, ano anterior à composição de ‘Águas de Março’, Tom Jobim havia sofrido a única grande perseguição política em sua vida.[4] Em um protesto contra a censura que vigorava durante a ditadura militar no Brasil, Tom Jobim e alguns compositores assinaram um manifesto e se retiraram do Festival Internacional da Canção, da Rede Globo. Doze artistas, entre os quais Tom, foram detidos e, durante algumas horas, interrogados.[5] Segundo declarações posteriores de Chico Buarque, Edu Lobo e Ruy Guerra, um diretor da emissora esteve presente e insistiu para que os compositores voltassem atrás e retornassem ao festival. A pressão não funcionou, mas – na opinião de Chico e Ruy – instigou o aparelho repressivo do regime a enquadrá-los na Lei de Segurança Nacional.[4] Depois, Tom foi intimado várias vezes a prestar depoimento, chegou a ter o seu telefone grampeado e a suas cartas, violadas.[4] Segundo Tom, a questão foi resolvida ‘de uma maneira bastante brasileira’, quando um escrivão de polícia solidário o chamou e disse: ‘Olhe, o senhor não queira se meter com polícia… Isso aqui não é bom. Negócio de polícia não é bom. Vou bater um negócio aqui para o senhor…’. E assim, o escrivão bateu à máquina de escrever uma declaração, que Tom assinaria. ‘Este papel aqui diz que o senhor não teve intenção’”.[6]”
A informação é verdadeira, porque ao continuar a pesquisa mais adiante venho a saber dessa prisão pouco divulgada:
Chico Buarque, Tom Jobim, Edu Lobo, Paulinho da Viola e Ruy Guerra foram presos pelo DOPS por terem se recusado a participar do Festival Internacional da Canção de 1971. Segundo Chico, o responsável pela prisão teria sido o próprio Paulo César Ferreira, que na época era assessor de Walter Clark e organizava o Festival. Paulo César Ferreira, ex-diretor da Rede Globo de Televisão, usou a estrutura da ditadura para forçar músicos a se apresentarem no 6º Festival Internacional da Canção, em 1971.
Pior, ou melhor, para a reputação política dos compositores: eles divulgaram uma carta na imprensa denunciando que não participariam do Festival devido à censura. Todos eles foram presos pelo Dops (Departamento Estadual de Ordem Política e Social) e, durante um dia inteiro, ficaram detidos e receberam ameaças. Os policiais do Dops alegavam que a atitude dos músicos era de caráter “comunista”, e que eles deveriam comparecer ao Festival. A Rede Globo já havia comercializado os direitos de transmissão do 6º Festival para outros países, tendo interesses econômicos na participação dos artistas,
Então vou ao reflexo da música de Tom Jobim no romance “A mais longa duração da juventude”. A sua música vem como um dos acontecimentos estéticos do tempo da ditadura:
“Penso na mais longa duração da juventude, resistente nos cabelos brancos, no coração a pulsar regenerado, no peito renascido para o amor. Como um broto que rebenta na árvore envelhecida, penso. E, no entanto, eles que de nada sabiam vão pela Imbiribeira, palmilhando a Estrada do Sol, de Jobim e Dolores Duran, que cantavam ao sair de manhã da garagem da casa de Tonhão.
“É de manhã
Vem o sol
Mas os pingos da chuva
Que ontem caiu
Ainda estão a brilhar
Ainda estão da dançar
Ao vento alegre
Que me traz esta canção…”
Em outro ponto da memória, o ano de 1972 foi um dos mais luminosos de nossas vidas. Como última luz de estrela, brilhou não somente por comparação às trevas do ano seguinte. Mas em si mesmo. Se não antecedesse viradas trágicas, seria um ano digno do mais caloroso afeto. 1972 foi como um disco vinil, uma canção que ouvíamos sem parar na radiola de ficha wurlitzer. Da embriaguez na noite ao arrependimento na manhã, havia sempre uma canção em nosso caminho, de Blue Moon com Ella Fitzgerald a YellowSubmarinee Chovendo na Roseira. Mas ao confrontar há pouco o sentido da memória, pude ver que levamos para um mesmo espaço acontecimentos de tempos diferentes. Isso quer dizer, os anos às vezes se confundem, unificados e na unidade do sentimento. Assim, guardei como de 1972 a manhã de um sábado em que ouvi Chovendo na Roseira em 1974. Por que a canção na voz de Elis Regina veio como se fosse de 1972? Entendo, ou procuro entender o amolecimento elástico do coração. É que na mesa do bar no Pátio de Santa Cruz ouvimos a voz de Elis e o piano de Tom Jobim. Ficamos suspensos na manhã de 1974 como se cantássemos em um jardim de pétalas vermelhas. “Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira”. Vinha um nó na garganta que deixava a gente sem fala, e o empurrávamos para baixo com goles de cerveja. “Adivinhou a primavera”, pensei há pouco, de modo apressado, que podia ter sido no ano da luz de 1972. Mas se tivesse pesquisado no íntimo, veria que o sentimento num instante de 1974 não poderia ser o de 1972”.
Agora, como uma ligação à sua morte em 8 de dezembro de 1994, lembro a música que mais ouvi quando soube do último dia de Tom Jobim em Nova York:
No CD Passarim, Borzeguim, Isabella vão passando. É o velho novo Tom renovando o peito da gente. Súbito, paro. Ouço uma voz entre a brincadeira e a seriedade:
“Un, deux, trois”, e vem um coro feminino, e começo a ouvir uma conversa melódica de Tom, entre a brincadeira e a seriedade mais uma vez:
“When I arrived in New York
The immigration officer asked me
Where have you been, Mr. Bim?
Where have you been, Joe?
You’ve been abroad for too long, Mr. Bim,
Haven’t you been?
I got to the hotel exhausted to my room
Having to attend a cocktail
Late that afternoon
And there my boss Nesuhi,
An old friend of Jobim’s, said:
May I introduce you to Gloria?
By all means
Buy all jeans…”
E vem então uma melodia que é um estender-se de Tom ao piano, uma canção que acende na gente uma melancolia tão doce quanto letal:
“I’ve never been in Paris for the summer
I’ve never drank a Scotch with this bouquet
My life is such a mess let’s have a Brahma
I’m happy that you called,
I really feel touché
Oh, it’s been a long, a very long time
Since a Brazilian has been in Paris com você”
E chegam uns acordes breves do piano que são uma impressão digital de Tom, que remetem a Wave, que remetem a Águas de Março, que remetem à voz nos dedos do Jobim maduro. Então ele retoma, num prolongamento, numa repetição com outras palavras:
“You look so cute there wearing my pajamas
You look so sexy with my pince-nez
Let’s highjack this Concord to the Bahamas
Come on dress up my love
Let’s go to the ballet
Oh, it’s been a long, a very long time
Since a Brazilian has danced with you
Le pas-de-deux”.
Por que a gente lembra e insiste em lembrar uma canção de versos tão bobos? Esqueçamos por ora a lição antiga de que a letra na música não tem vida própria, autônoma. Esqueçamos que os estruturalistas, quando reclamam a primazia absoluta do texto, são tão medíocres quanto estreitos e amesquinhadores. Esqueçamos. Un, deux, trois. E volta a melodia:
“I’ve never been in Paris for the summer
I
’ve never drank a Scotch with this bouquet
My life is such a mess let’s have a Brahma…”
Não é nem o “a minha vida está uma bagunça, uma confusão tamanha, vamos a uma cerveja”, que nos toca de passagem como uma confissão. O que há nessa música é a história que sabemos de Tom, posterior a ela. Como esquecer que Tom morreu em Nova York? Como esquecer que o câncer de bexiga fez com que ele morresse, com toda tecnologia e avanço norte-americano, em um hospital tão longe? Não riam, por favor, mas os artistas são meio bruxos, meio profetas. Sei que esta não é a hora de uma discussão racionalista, para que se prove a vigorosa intuição que possui um artista.
Isso exigiria uma descida até o nascimento da arte nas sociedades mais primitivas, quando a religião, a invocação aos deuses anímicos era ao mesmo tempo uma representação do sonho humano. Isto exigiria ainda o relato da experiência viva, que temos observado ao longo do tempo. Não, agora é começo do ano. O que importa agora é dizer: a brincadeira, a piada de Tom, sobre uma sua chegada a Nova York, traz para nós, seus sobreviventes, a luz da precariedade da vida humana.
“I’m happy that you called,
I really feel touché
Oh, it’s been a long, a very long time
Since a Brazilian has been in Paris com você.”
Assim foi, assim é. Até parece que its been a long, a very long time, mas não, foi hoje, 8 dezembro.
Urariano Mota, jornalista, é autor dos romances Soledad no Recife, O Filho Renegado de Deus e A Mais Longa Duração da Juventude. É colunista do Portal Vermelho e colaborador do Prosa, Poesia e Arte.