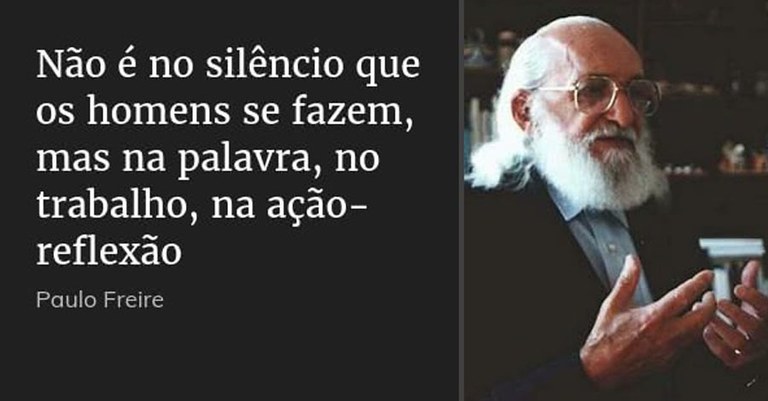 |
Venício revisita Paulo Freire para escapar da "vontade imobilizadora"
|
O Conversa Afiada tem o prazer de republicar da Carta Maior artigo do professor Venício A. de Lima, que, depois de longo inverno, retoma a discussão da cultura do silêncio em tempos de redes sociais:
Sobre a cultura do silêncio *
“Dizer a palavra não é um ato verdadeiro se isso não está ao mesmo tempo associado ao direito de auto expressão e de expressão do mundo, de criar e recriar, de decidir e escolher e, finalmente, participar do processo histórico da sociedade. Na cultura do silêncio as massas são ‘mudas’, isto é, elas são proibidas de criativamente tomar parte na transformação da sociedade e, portanto, proibidas de ser”.
Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade, 1970[1].
A revolução digital das últimas décadas trouxe, de maneira generalizada, imensas possibilidades para novas formas de sociabilidade e de expressão pública. No final de 2017, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas estima que o número de “smartphones” em uso – permitindo, portanto, conexão às redes sociais virtuais - já é igual à população brasileira (Capelas, 2017). Apesar disso, um número cada vez maior de vozes – excluídas ou marginalizadas – luta por acesso e por ser ouvidas no debate público[2].
Navegar em redes sociais virtuais como Facebook, Twitter ou Instagram representa sim enorme possibilidade de interagir com um número significativo de pessoas, para além do círculo imediato e restrito das relações pessoais. Todavia, isso não garante que se tenha voz e que essa voz seja ouvida no debate público, vale dizer, não significa a universalização da liberdade de expressão, nem o reconhecimento do direito à comunicação ou, menos ainda, sua democratização.
Em análise sobre as jornadas de junho de 2013, observei que:
Apesar de “conectados” pelas redes sociais – e, portanto, de não se informarem, não se divertirem e não se expressarem (prioritariamente) através da velha mídia –, os jovens que detonaram as manifestações dependem dela para alcançar visibilidade pública, isto é, para serem incluídos no espaço formador da opinião pública. Esse aparente paradoxo decorre do fato de que a velha mídia, sobretudo a televisão, [ainda] controla e detém o monopólio de “tornar as coisas públicas”. Além de dar visibilidade, ela é indispensável para “realimentar” o processo e permitir sua própria continuidade. Cartazes dispersos nas manifestações revelaram que os jovens manifestantes se consideram “sem voz pública”, isto é, sem canais para expressar e ter a voz ouvida. Ou melhor, a voz deles não se expressa nem é ouvida publicamente. Vale dizer, as TICs (sobretudo as redes sociais virtuais acessadas via telefonia móvel) não garantem a inclusão dos jovens – e de vários outros segmentos da população brasileira – no debate público cujo monopólio é exercido pela velha mídia (Lima, 2013, pp. 89-90).
Quatro anos depois, verifica-se que não houve alteração significativa nesse quadro, inclusive porquê “grande parte do conteúdo que circula nas mídias sociais virtuais vem dos grandes meios de comunicação” (Santos, 2017)[3].
Cultura do silêncio
Essa constatação inicial é necessária para que se introduza o tema deste breve ensaio: a cultura do silêncio, conceito construído por Paulo Freire (1921-1997), educador brasileiro cujo pensamento e obra, aliás, têm sido contestados e combatidos publicamente por grupos de direita desde as manifestações de rua que apoiaram o golpe parlamentar de 2016[4].
O conceito de cultura do silêncio emerge na obra de Freire como resultado da busca permanente pelas razões históricas que têm levado enormes contingentes de homens e mulheres – inicialmente na sociedade brasileira, depois na latino-americana e, ao cabo, até mesmo no mundo chamado de “desenvolvido” – a nascer, viver e, sobretudo, permanecer na condição de oprimidos, emudecidos, sem ter sua voz ouvida e excluídos de decisões que dizem respeito à construção de regras determinantes de suas próprias vidas.
Embora nunca tenha escrito um texto específico sobre o que vem a ser cultura do silêncio[5], Freire considerava a superação dela, através da ação cultural para a liberdade – que possibilita a tomada de consciência de homens e mulheres como sujeitos de seu próprio destino, capazes de criar cultura e transformar o mundo – condição indispensável para a plena realização humana.
Elaborado tendo como referência imediata os tempos da guerra fria no final dos 60 e início dos 70 do século passado e rompendo o engessamento das definições restritas ao campo da educação de adultos, o pensamento de Freire foi sendo atualizado até sua morte repentina em 1997. Vinte anos depois, continua iluminando a compreensão da sociedade brasileira, tanto do ponto de vista histórico, como também do enfretamento dos enormes desafios colocados pela nova ordem neoliberal.
Nessa perspectiva, este texto pretende reconstruir o percurso de elaboração do conceito de cultura do silencio ao longo da obra de Freire, recuperando não só seu contexto intelectual como seus componentes fundamentais. Pretende-se também indicar algumas das múltiplas formas de silenciamento que sobrevivem entre nós perpetuando a cultura do silêncio e, por fim, problematizar as possibilidades de reverter políticas de silenciamento no contexto do neoliberalismo.
A.1 Vieira: a fonte de Southey e Berlinck
Onde Freire encontrou inspiração para elaborar o conceito de cultura do silêncio? A resposta a esta pergunta nos leva, inicialmente, a um historiador inglês do século XVIII.
O poeta, ensaísta e historiador Robert Southey (1774-1843), nascido em Bristol, na Inglaterra, nunca esteve no Brasil, mas valeu-se de preciosa biblioteca organizada por seu tio, pastor anglicano da comunidade inglesa em Lisboa, e escreveu a primeira história publicada do nosso país que abrange o período colonial do “descobrimento” até a transferência da corte portuguesa em 1808. A História do Brasil, originalmente publicada em inglês, em três volumes (1810, 1817 e 1819), teve sua primeira edição em português em 1862 e continua sendo um importante documento sobre os primeiros três séculos de construção da sociedade brasileira[6].
Em boa parte do volume I de sua História (2010), Southey trata do período da invasão holandesa no nordeste brasileiro e da longa e sofrida guerra para expulsão dos comandados do Conde Mauricio de Nassau. Ao final do extenso capítulo XVII, relata a chegada à Bahia do Marques de Monte Alvão, indicado vice-rei em 1640, ano em que a dinastia dos Bragança retoma da Espanha o controle de Portugal à qual estava unido desde 1580.
Para descrever a situação em que se encontrava a colônia neste período, Southey recorre ao pregador jesuíta Padre Antonio Vieira (1608-1697), que saúda o vice-rei com um de seus famosos sermões, o da Visitação de Nossa Senhora, proferido no dia 2 de julho de 1640[7].
O púlpito era talvez a única tribuna livre existente naquele período e Vieira aproveita-se sabiamente da festa do dia no calendário litúrgico da Igreja Católica para “pintar” ao vice-rei um quadro sombrio da Terra de Santa Cruz[8].
O relato da Visitação de Nossa Senhora, logo após receber a “anunciação” de que seria mãe de Jesus, à sua prima Isabel, também grávida de seis meses e que dará à luz João Batista, está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Vieira [1959] cita diretamente da Vulgata Latina, parte do versículo 44 – Ut facta est salutationis tuae in auribus meis, exultavit in gaudio infans[9] – e prossegue:
Comecemos por esta última palavra. Bem sabem os que sabem a língua latina, que esta palavra, infans, infante[10], quer dizer o que não fala. Neste estado estava o menino Batista, quando a Senhora o visitou, e neste esteve o Brasil muitos anos, que foi, a meu ver, a maior ocasião de seus males. […] O pior acidente que teve o Brasil em sua enfermidade foi o tolher-se lhe a fala: muitas vezes se quis queixar justamente, muitas vezes quis pedir o remédio de seus males, mas sempre lhe afogou as palavras na garganta, ou o respeito, ou a violência; e se alguma vez chegou algum gemido aos ouvidos de quem o devera remediar, chegaram também as vozes do poder, e venceram os clamores da razão [p. 330].
Para Vieira, portanto, o maior dos males do enfermo Brasil na primeira metade do século XVII era ter sido mantido no mesmo estado dos infans, infantes, isto é, sem fala, sem voz: “o pior acidente que teve o Brasil em sua enfermidade foi o tolher-se lhe a fala”. Além disso, afirma Vieira, nas muitas vezes em que o Brasil tentara manifestar-se através dos “clamores da razão”, havia sido vencido pela violência e pelo poder[11].
Um século e meio depois de Southey, em livro pouco conhecido, Berlinck[12] (1948) descreve o que considera “fatores adversos” na formação brasileira e recorre igualmente ao sermão da Visitação de Nossa Senhora (através da História de Southey). Para ele, Vieira “achava, apesar de estar no século XVII, que estas terras já deveriam conter representantes do povo para expressar as aspirações dos habitantes, e influir na marcha dos negócios públicos. Vontade de falar, de se queixar, havia, mas o regime de opressão que já se iniciara, impedia que a opinião pública se fizesse ouvir” (p. 89).
Para Berlinck, a “opressão política” é um “mal endêmico” no Brasil. Afirma ele:
A opressão política começou logo depois do governo de Mem de Sá [1558-1572]; atravessou o período da dominação espanhola e firmou-se definitivamente no reinado bragantino. A escola que se formou e perdurou por séculos, prosseguiu no Brasil Império, e tem refulgido na república em inúmeros atos de governos constitucionais ou não. Não há tradição colonial que tenha resistido tanto à ação corrosiva do tempo e ao progresso da humanidade quanto esta (p. 86).
Além disso, Berlinck compartilha de posição que viria a ser consensual entre os principais intérpretes de nossa história, isto é, a de que o Brasil era “um país sem povo”. Nesse sentido, escreve: “não se formara, como só depois da abolição da escravatura se formaria, uma classe que se poderia chamar de ‘povo’. Eram, ou senhores ou escravos” (p. 92).
A.2 Do mutismo à cultura do silêncio
Na tese “Educação e Atualidade Brasileira” que escreveu para o concurso da cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes de Pernambuco, em 1959, Freire antecipa muitas das observações que vão aparecer revistas e atualizadas, oito anos depois, em seu primeiro livro que traz o sugestivo título de “Educação como Prática da Liberdade”.
Em sua tese, Freire parte (capítulo II) de uma reflexão sobre a “inexperiência democrática” brasileira explicada pela interpretação [presente em Berlinck] de que o Brasil era “um país sem povo”. Para sustentar seu argumento, recorre a vários autores clássicos brasileiros como Caio Prado Junior, Gilberto Freyre, Nelson Werneck Sodré, Fernando Azevedo e Oliveira Vianna. Valendo-se de uma citação deste último, Freire conclui:
Nas circunstâncias de nossa colonização e de nosso povoamento (...) tudo nos leva a um fechamento extremamente individualista. “Cada família é uma república”, afirma Vieira (p. 69).
Vale lembrar que essa citação de Vieira, recorrente em diferentes autores, foi escrita em 1662/1663 depois da expulsão dos jesuítas do Estado do Maranhão no contexto de uma longa resposta às acusações feitas a eles pelo procurador Jorge de Sampaio Carvalho e dirigida a D. Afonso VI. Vieira explica as causas da opressão existente no Estado do Maranhão e, entre elas, o “pouco governo com que se vive naquelas partes”. Cito o longo parágrafo:
A 3ª. causa é o estilo ou pouco governo com que se vive naquelas partes, porque, exceta a cidade de São Luis do Maranhão, onde de poucos tempos para cá se corta carne algumas vezes, em todo o Estado não há açougue, nem ribeira, nem horta, nem tenda onde se vendam as coisas usuais para o comer ordinário, nem ainda um arrátel de açúcar, com se fazer na terra. E sendo que no Pará todos os caminhos são por água, não há em toda a cidade um barco ou canoa de aluguer para nenhuma passagem, de que tudo se segue, e vem a ser estilo de viver ordinário, que para um homem ter o pão da terra, há de ter roça, e para comer carne há de ter caçador, e para comer peixe, pescador, e para vestir roupa lavada, lavadeira, e para ir à missa, ou a qualquer parte, canoa e remeiros. E isto é o que precisamente têm os moradores mais pobres, tendo os de mais cabedal costureiras, fiandeiras, rendeiras, teares e outros instrumentos e ofícios de mais fábrica, com que cada família vem a ser uma república; e os que não podem alcançar a tanto número de escravos, ou passam miseravelmente, ou, vendo-se no espelho dos demais, lhes parece que é miserável a sua vida (Vieira, 1662/2016; p. 244).
Freire se utiliza também do trabalho de isebianos históricos como Guerreiro Ramos, responsável pelo departamento de Sociologia do ISEB, que em seu “Condições Sociais do Poder Nacional” (1957), afirma:
O que sociologicamente é relevante é assinalar que, durante o período de dominação dos fazendeiros, o Brasil foi um país sem povo. Mesmo a observadores desarmados de categorias sociológicas foi fácil fazer essa observação. Já na fase colonial, o padre Antonio Vieira dizia: ‘cada família é uma república’. E Simão de Vasconcelos confirmava: ‘nenhum homem nesta terra é republico’. O francês Louis Couty escrevia em 1882 que ‘o Brasil não tem povo’. Observação que Silvio Romero fez sua em 1907. Outro estudioso seguro, Alberto Torres, declarava, em 1914, que no Brasil ‘a sociedade não chegou a constituir-se’. Não se pode duvidar que são perfeitamente exatas essas verificações (p. 14-15).
No contexto deste “país sem povo”, Freire (1959) vai também recorrer, através de várias citações do livro de Berlinck, ao sermão da Visitação de Nossa Senhora de Vieira [nota 1, p. 82], e, pela primeira vez, fala no “mutismo brasileiro”[13] que é definido em nota específica:
Entendemos por mutismo brasileiro a posição meramente expectante do nosso homem diante do processo histórico nacional. Posição expectante que não se alterava em essência e só acidentalmente, com movimentos de turbulência, a constante, mais uma vez era o mutismo, o alheamento à vida pública. (...) [p.83-84].
Alguns anos mais tarde, no “Educação como Prática da Liberdade” (1967), antes mesmo de retomar o tema da “inexperiência democrática”, Freire, registra a “emergência” do povo na história do Brasil e afirma:
Se na imersão [o povo] era puramente espectador do processo [histórico], na emersão descruza os braços e renuncia à expectação e exige a ingerência. Já não se satisfaz em assistir. Quer participar. A sua participação (...) ameaça as elites detentoras de privilégios. Agrupam-se então para defendê-los (...). E, em nome da liberdade ‘ameaçada’, repelem a participação do povo. Defendem uma democracia sui generis em que o povo é um enfermo a quem se aplicam remédios. E sua enfermidade está precisamente em ter voz e participação. Toda vez que tente expressar-se livremente e pretenda participar é sinal de que continua enfermo, necessitando, assim, de mais ‘remédio’. A saúde, para esta estranha democracia, está no silêncio do povo, na sua quietude (p. 55).
Nesta passagem de Freire, o povo que estava imerso (ausente) da história, emerge. E a influência do jesuíta seiscentista se manifesta claramente, tanto na ideia de “enfermidade” quanto na ausência de voz, no silêncio do povo, como características “estranhas” de democracia.
O segundo capítulo do “Educação como Prática da Liberdade”, é inteiramente dedicado à discussão da “inexperiência democrática”. Freire enfatiza a ausência de uma vida comunitária na experiência colonial brasileira. Apoiando-se em Oliveira Vianna [1949], compara a situação do Brasil com a das comunidades agrárias europeias (espanholas), nas quais, por meio da participação no poder local, o povo adquiriu uma vasta experiência política. Ele sustenta que “o Brasil nunca experimentou aquele senso de comunidade, de participação na solução de problemas comuns [...] senso que se ‘instala’ na consciência do povo e se transforma em sabedoria democrática” [p. 70-71].
Após analisar as consequências da herança colonial e da ausência de autogoverno no Brasil, Freire conclui seu argumento fazendo um conjunto de perguntas sobre os “fatores adversos” de nossa colonização. Questiona ele:
“Onde buscarmos as condições de que tivesse emergido uma consciência popular democrática, permeável e crítica, sobre a qual se tivesse podido fundar autenticamente o mecanismo do estado democrático [...]? Na ausência de circunstâncias para o diálogo em que surgimos, em que crescemos?” (p. 79-80, passim).
Ao particularizar “a ausência de circunstâncias para o diálogo em que surgimos, em que crescemos”, Freire retoma o tema do mutismo. Retorna, então, à passagem do sermão da Visitação de Nossa Senhora de Vieira – já citado na tese de 1959 – e prossegue afirmando que o mutismo é característico da sociedade a que se negam a comunicação e o diálogo e, em seu lugar, se lhes oferecem “comunicados”. Insiste que essas sociedades se tornam preponderantemente “mudas” e chama a atenção para o fato de que o mutismo “não significa ausência de resposta, mas sim uma resposta que carece de criticidade.” Logo depois, em 1968, Freire utiliza pela primeira vez a expressão cultura do silêncio referindo-se não só ao Brasil, mas a América Latina como um todo.
A.3 Os frutos da experiência chilena
O trabalho de Freire junto ao Instituto de Capacitación y Investigación de la Reforma Agrária(ICIRA) chileno, na década de 60, colocou-o em estreito contato com os “campesinos”, em cujo ambiente cultural encontrou fortes semelhanças com aquele dos camponeses do Nordeste brasileiro. Ele teve a oportunidade de vivenciar diretamente as consequências tanto da colonização portuguesa como da espanhola na América Latina. É nesta época que Freire escreve sua obra maior, a Pedagogia do Oprimido.
Na Pedagogia do Oprimido, para além da “inexperiência democrática” de “um país sem povo”, Freire reelabora aquilo que havia nomeado de “posição meramente expectante”, de“alheamento à vida pública” por parte dos oprimidos e identifica o fatalismo como uma das causas desse comportamento apático, terreno ideal para a consolidação da cultura do silêncio. Diz Freire:
Este fatalismo, alongado em docilidade, é fruto de uma situação histórica e sociológica e não um traço essencial da forma de ser do povo. Quase sempre este fatalismo está referido ao poder do destino ou da sina ou do fado – potencias irremovíveis – ou a uma destorcida visão de Deus. Dentro do mundo mágico ou místico em que se encontra a consciência oprimida, sobretudo camponesa, quase imersa na natureza, encontra no sofrimento, produto da exploração em que está, a vontade de Deus, como se Ele fosse o fazedor desta ‘desordem organizada’ (pp.52-53).
Na sequência, Freire se vale dos textos clássicos de Franz Fanon e Albert Memmi para explicar a dualidade existencial dos oprimidos que “hospedam” em si mesmos o opressor. Por outro lado, na sua própria experiência de vida, ele se deparou com uma Igreja Católica conservadora, que reagia de forma desmesurada ao “comunismo” da revolução Cubana e teve enorme responsabilidade na construção do que ele chama “uma visão destorcida de Deus”. Essa visão foi determinante para a perpetuação das condições nas quais florescia e se consolidava a cultura do silêncio.
É somente nos anos 50 que começa a ocorrer a virada progressista de setores da Igreja Católica no Brasil, com o trabalho de leigos como Alceu de Amoroso Lima, de bispos como Dom Helder Câmara, além da criação dos movimentos de Ação Católica. Freire, ele próprio, foi um dos pensadores da Teologia da Libertação que surge na América Latina depois do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín, celebrando a opção preferencial pelos pobres[14].
Ainda em 1968, no Informe de Actividades do ICIRA, Freire retoma e amplia os horizontes conceituais do mutismo – agora, cultura do silêncio – para toda a América Latina e coloca:
Estamos convencidos – hoje, mais do que nunca – que aquilo que chamamos de cultura do silêncio, introjetada como “inconsciente coletivo” pelos camponeses, não pode ser transformada mecânica ou automaticamente pela mudança infra estrutural operada através do processo de reforma agrária. Esta cultura do silêncio, tão característica de nosso passado colonial, nutre-se e deita suas raízes no solo favorável da estrutura de propriedade da terra na América Latina. Histórica e culturalmente, esta cultura do silêncio assumiu a forma de uma “consciência camponesa”, ou na definição de Hegel, uma “consciência servil” (pp. 227-228). [15]
No contexto latino americano é possível melhor compreender o significado mais profundo da cultura do silêncio.
A.4 Uma nova dimensão desde os Estados Unidos
No segundo semestre de 1969, Freire recebe convite da Universidade de Harvard e se transfere para os Estados Unidos. Em contato com a realidade de um “país desenvolvido”, ele acrescenta ao conceito de cultura do silêncio uma nova dimensão, aquela que se refere ao reconhecimento da existência de oprimidos e de áreas de silêncio também nas periferias urbanas do “Primeiro Mundo”.
Diz ele: “(apesar de nutrir-se e deitar suas raízes no solo favorável da estrutura de propriedade da terra na América Latina) isto não significa que uma tal análise, pelo menos em parte, não seja aplicável a outras áreas do Terceiro Mundo bem como àquelas das sociedades metropolitanas, que se identificam com o Terceiro Mundo, enquanto ‘áreas de silêncio’.” (Freire, 1970/1976, p.70). Na verdade, “o conceito de ‘Terceiro Mundo’ é ideológico e político, não geográfico. O chamado ‘Primeiro Mundo’ tem, dentro de si e em contradição consigo, o seu ‘Terceiro Mundo’, como este tem, dentro de si, o seu ‘Primeiro Mundo’, representado pela ideologia da dominação e no poder das classes dominantes” [Freire 1971/1976, p. 127].
No ensaio “Ação Cultural para a Liberdade”, escrito nos Estados Unidos, (original 1970; 1976), Freire oferece uma síntese do argumento:
Só é possível compreender a cultura do silêncio se a tomarmos como uma totalidade que é, ela própria, parte de um todo maior. Neste todo maior devemos reconhecer também a cultura ou culturas que determinam a voz da cultura do silêncio. [...] A compreensão da cultura do silêncio pressupõe uma análise da dependência enquanto fenômeno relacional que acarreta diversas formas de ser, de pensar, de expressão, tanto da cultura do silêncio como da cultura que “tem voz” [...]. A sociedade dependente é por definição uma sociedade silenciosa. Sua voz não é autêntica, mas apenas um eco da voz da metrópole – em todos os aspectos, a metrópole fala, a sociedade dependente ouve. O silêncio da sociedade-objeto face à sociedade metropolitana se reproduz nas relações desenvolvidas no interior da primeira. Suas elites, silenciosas frente à metrópole, silenciam, por sua vez, o seu próprio povo. Apenas, quando o povo da sociedade dependente rompe as amarras da cultura do silêncio e conquista seu direito de falar – quer dizer, apenas quando mudanças estruturais radicais transformam a sociedade dependente – é que esta sociedade como um todo pode deixar de ser silenciosa face à sociedade metropolitana (Freire 1970, 32-33)[16].
Após este longo percurso[17] podemos afirmar que o conceito de cultura do silêncio tem sua origem numa observação de Vieira no século XVII, se constrói a partir da análise de clássicos brasileiros sobre a nossa herança colonial e se consolida no quadro teórico da “teoria da dependência”, em voga no início da segunda metade do século passado. Referindo-se inicialmente à sociedade brasileira, foi posteriormente ampliado para abranger não somente outros países da América Latina, mas todas as sociedades do Terceiro Mundo e os oprimidos em geral. Nesse sentido, Freire sustenta que os séculos de colonização portuguesa e espanhola na América Latina resultaram numa estrutura de dominação à qual corresponde uma totalidade ou um conjunto de representações e comportamentos. Esse conjunto ou “formas de ser, pensar e expressar” é tanto um reflexo como uma consequência da estrutura de dominação. A cultura do silêncio, por fim, caracteriza a sociedade a que se nega a comunicação e o diálogo e, em seu lugar, se lhe oferece “comunicados”, vale dizer, é o ambiente do tolhimento da voz e da ausência de comunicação, da incomunicabilidade.
Políticas de silenciamento[18]
Quais seriam as formas de sobrevivência da cultura do silêncio vale dizer, quais são as múltiplas formas de silenciamento na contemporaneidade? Diferentemente dos ambientes onde Freire identificou o camponês oprimido, sobretudo, o Nordeste brasileiro e a área rural de atuação do ICIRA no Chile, e das condições originais para o surgimento da cultura do silêncio nas décadas de 50 e 60 do século passado – inexperiência democrática (“um país sem povo”) e fatalismo – vive-se hoje em sociedade predominantemente urbana, nominalmente democrática e, sobretudo, depositam-se amplas esperanças no potencial inclusivo e “democratizante” da revolução digital, sobretudo, nas redes sociais virtuais.
Há de se questionar se as condições existentes no século XXI impedem a sobrevivência de áreas de silêncio, de ausência de voz pública ou, ao contrário, em que medida atualizam e reproduzem a estrutura de dominação que sempre excluiu os oprimidos de uma sociedade escravocrata que carrega até hoje as marcas profundas dessa realidade histórica.
Não estariam os oprimidos históricos – povos originários, negros, mulheres e as classes trabalhadoras – silenciados hoje tanto por políticas de silenciamento específicas, quanto pelo discurso público hegemônico que permanece classista, patriarcal e racista?
Escrevendo sobre a oligarquia brasileira, em perspectiva histórica, Fábio Konder Comparato afirmou recentemente que “o grande ausente desse regime oligárquico é e sempre foi o povo. Debalde o procurarmos nos principais fatos de nossa História. Ele permanece sempre privado de palavra” (Comparato, 2017, p. 19).
Na verdade, desde que meios tecnológicos – jornais, rádio, televisão, internet – passaram a ser mediadores incontornáveis da voz que se expressa e se faz ouvir no debate público, começaram também a existir políticas – explícitas ou não – relativas ao seu funcionamento, que se somaram às características históricas de formação da sociedade brasileira e funcionam como políticas de silenciamento excludentes, possibilitando a perpetuação da cultura do silêncio.
Abaixo dois exemplos contemporâneos das múltiplas formas de silenciamento.
B.1 O “efeito silenciador do discurso”
Introduzido pelo jurista norte americano Owen Fiss em seu conhecido livro “A ironia da liberdade de expressão – Estado, regulação e diversidade na esfera pública”, publicado no Brasil em 2005, o conceito de “efeito silenciador do discurso” faz parte de um argumento maior, contrário à posição dos liberais clássicos, de que o Estado é um inimigo natural da liberdade (esp. capítulo 1). Fiss afirma:
O Estado pode ser uma fonte de liberdade, por exemplo, quando promove a robustez do debate público em circunstâncias nas quais poderes fora do Estado estão inibindo o discurso. Ele pode ter que alocar recursos públicos – distribuir megafones – para aqueles cujas vozes não seriam escutadas na praça pública de outra maneira. Ele pode até mesmo ter que silenciar as vozes de alguns para ouvir as vozes dos outros. Algumas vezes não há outra forma (p. 30).
Os discursos de incitação ao ódio, à pornografia e os gastos ilimitados nas campanhas eleitorais dos Estados Unidos, são usados por Fiss como exemplo do “efeito silenciador do discurso”. As vítimas do ódio têm sua autoestima destroçada; as mulheres se transformam em objetos sexuais e os “menos prósperos” ficam em desvantagem na arena política.
Neste exemplos, “o efeito silenciador vem do próprio discurso”, isto é, “a agência que ameaça o discurso não é o Estado”. Cabe, portanto, ao Estado promover e garantir o debate aberto e integral e assegurar “que o público ouça a todos que deveria”, ou ainda, garanta a democracia exigindo “que o discurso dos poderosos não soterre ou comprometa o discurso dos menos poderosos”.
Especificamente no caso da liberdade de expressão, existem situações em que o “remédio” liberal clássico de mais discurso, em oposição à regulação do Estado, simplesmente não funciona, afirma Fiss. Aqueles que supostamente poderiam responder ao discurso dominante não têm acesso às formas de fazê-lo (p. 47-48).
O exemplo emblemático dessa última situação é o acesso ao debate público em sociedades (como a brasileira), onde “as formas de resposta ao discurso dominante” permanecem, em boa parte, sob o controle de uns poucos grandes grupos empresariais da mídia tradicional.
B.2 Radiodifusão como silenciamento
Desde que o Estado brasileiro, no início da década de 30 de século passado, optou por transferir à inciativa privada a exploração do serviço público de radiodifusão, foi se construindo no Brasil uma política de silenciamento que, salvo raríssimas exceções, favoreceu a manifestação pública das vozes dominantes e a exclusão das vozes dos oprimidos históricos da sociedade brasileira: povos originários, negros, mulheres e classes trabalhadoras (cf. Lima, 2015a, cap.6).
Esse fato poderá ser comprovado não só pela análise da legislação que consolidou o marco regulatório do setor, como também pela recuperação das inciativas de legislação que favoreceriam a inclusão de vozes no debate público e que nunca lograram aprovação no Congresso Nacional ou mesmo de normas e princípios que, mesmo tendo sido transformados em lei, não foram regulamentados e/ou não são cumpridos.
O histórico descaso brasileiro com a comunicação pública, que vem desde as derrotas dos projetos de Roquete Pinto (Bojunga, 2017), tanto para o rádio quanto para a televisão, até o atual desmonte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)[19], são também indicadores robustos da política de radiodifusão como uma política de silenciamento.
Observações finais
Paulo Freire contrapôs a cultura do silêncio ao “conceito antropológico de cultura” e encontrou na práxis da ação cultural para liberdade a síntese dialética capaz de superar a condição de opressão e, portanto, da ausência de voz dos oprimidos (Cf. Lima, 2015b, esp. cap. III).
Nos novos tempos neoliberais a questão fundamental a ser feita é se existe alguma perspectiva de democratização da comunicação, vale dizer, de reverter as políticas de silenciamento – explícitas e/ou implícitas – , dentro da “nova razão do mundo”? (Lima, 2016).
É significativo observar que no fim da vida, diante da avassaladora progressão do neoliberalismo, Freire tenha recuperado o conceito de fatalismo e se referido a ele como uma das características do discurso neoliberal. Disse ele no seu último livro (Freire, 1997):
“A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar “quase natural”. Frases como “a realidade é assim mesmo, que podemos fazer?” ou “o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século” expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora” (pp.21-22).
Escapar dessa “vontade imobilizadora” apontada por Freire, talvez seja o principal desafio dos nossos dias. Sem acreditar que outro mundo é possível não há como vencer os enormes obstáculos que impedem que todas e todos tenham “o direito de auto expressão e de expressão do mundo, de criar e recriar, de decidir e escolher e, finalmente, participar do processo histórico da sociedade”.
(Clique aqui para acessar as referências bibliográficas)
Fonte: CONVERSA AFIADA









